
Para o médico sanitarista e ativista Caruê Contreiras, campanhas devem ir além da prevenção e abordar o esclarecimento. Foto: Sham Hardy/Flickr, CC-BY-SA 2.0)
Se olhada sob a perspectiva científica, a resposta à epidemia de aids pode ser considerada um sucesso. Em pouco mais de 35 anos, a infecção foi de um alarde global a uma doença controlável.
Com o surgimento de novos remédios, com menos efeitos colaterais e mais eficácia no combate à infecção, é possível viver praticamente sem apresentar sintomas da aids. Sabe-se que a infecção sob controle, chamada “indetectável” no jargão médico, não se transmite por via sexual, e a expectativa de vida do portador é hoje similar a das pessoas sem o vírus HIV.
No entanto, a pessoa com HIV e aids ainda esbarra no estigma social, o que limita seus direitos, impede que ela reconheça seus pares e se defenda publicamente e de forma coletiva. O estigma leva ao silenciamento e ao isolamento, que, por sua vez, são fatores importantes de adoecimento e morte. Relatórios da pesquisa Índice de Estigma das Pessoas Vivendo com HIV, financiada pela UNAIDS e realizada em dezenas de países, revelam que 20% das PVHA tiveram pensamento suicida no último ano.
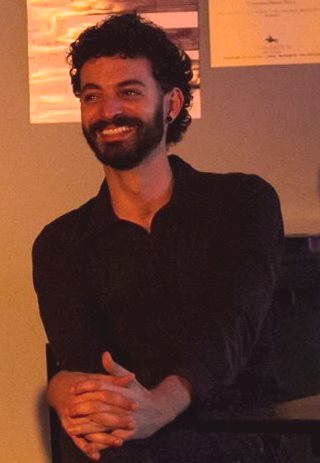
Caruê Contreiras, médico sanitarista e ativista em HIV e LGBT. Foto: acervo pessoal, publicada com permissão.
O médico sanitarista e ativista brasileiro Carué Contreiras, membro da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids (RNP+), é um dos profissionais que atuam na interface entre a ciência e os direitos humanos. “A ciência evoluiu, mas a atitude negativa em relação a nós, pessoas vivendo com HIV ou aids (PVHA), não mudou. Atitude essa que, num exercício de essencialismo estratégico, pode ser chamada de sorofobia”, afirmou em entrevista para o Global Voices por e-mail.
No final de 2016, havia mais de 36 milhões de pessoas com o vírus HIV no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Estima-se que 0.8% de adultos entre 15 e 49 anos sejam portadoras do vírus, mas a distribuição geográfica dessa população se dá de forma desigual — na África Austral, a proporção de pessoas desse grupo etário com HIV chega a 4,2%, enquanto as Américas estão abaixo da média mundial, com 0.4%.
O Brasil se destacou na história da aids por ser o primeiro do mundo a garantir o acesso gratuito aos medicamentos anti-HIV por meio do seu sistema público de saúde. Os números de novas infecções se mantêm estáveis desde o final dos anos 90 no Brasil. Pela primeira vez, mais da metade das pessoas vivendo com HIV está em tratamento no país.
Mas esse passado ofusca preconceitos ainda enfrentados pelas PVHA. “A voz da PHVA é especialmente negligenciada pela mídia, que muitas vezes a apresenta como vítima ou como um exemplo a não ser seguido, sob o argumento de fomentar a prevenção.
Confira a entrevista completa.
Por que discussões sobre o HIV ainda são tão marginalizadas, mesmo diante da evolução do tratamento?
Uma primeira camada do preconceito, o medo da transmissão por contato casual, é relativamente simples de ser desconstruída. Porém, num nível mais profundo, a sorofobia deriva de outras opressões sexuais e nos atribui falha moral ou desvio de personalidade. Os sentidos produzidos pela sorofobia são complexos e interagem com outros preconceitos contra grupos marginalizados – como machismo, racismo, transfobia e outros, a depender do lugar. Em regiões onde doença e morte por aids ainda são frequentes, essas imagens informam mais fortemente a sorofobia.
A maioria das campanhas de grande repercussão, seja de ONGs ou do governo, focam majoritariamente na prevenção, mas há ativistas que entendem que a luta contra a aids deve seguir também outras linhas. Você pode falar sobre isso?
Discursos de educação em saúde frequentemente pecam por restringir a mensagem à prevenção e ignorar a PVHA de fato. É lógico que o acesso à prevenção é importante na construção da autonomia das pessoas em relação à sua sexualidade. Porém, no caso do HIV, existe sempre um contraponto, um “outro”, que é a PVHA. Diferente da pessoa com gonorreia, é uma identidade para toda a vida e que está relacionada à perda de direitos.
Um discurso educativo que se restringe ao “como se proteger” – e dá à PVHA o lugar de vetor – irá reforçar a alteridade e a sorofobia. Em contrapartida, uma mensagem que parte de uma problematização consistente da sorofobia e que é neutra em relação ao status sorológico pode ajudar a dissolver o silêncio sorofóbico. O silêncio neurotiza as subjetividades até dos negativos [pessoas sem HIV], causando paranoia e negação, o que interfere tanto na convivência e no afeto quanto na habilidade de se prevenir.
Qual o papel da mídia nesse cenário?
A representação midiática costuma se polarizar entre a excitação com os avanços científicos e uma postura fatalista e vitimizadora diante da tragédia de indivíduos e países muito afetados. A ciência médica é, sem dúvidas, o aspecto do HIV mais visibilizado e empolgante – repare que raramente falta um depoimento médico. Diferente do que ocorre com a malária e outras doenças comuns em países em desenvolvimento, há muito financiamento para pesquisas em tratamento e prevenção do HIV, o que gera bens com alto potencial de garantir qualidade de vida.
Porém, os aspectos sociais e relacionados aos direitos humanos são menos visibilizados, mas são justamente os que nos permitem entender a razão das conquistas científicas não chegarem a todos. A voz da PHVA é especialmente negligenciada pela mídia, que muitas vezes a apresenta como vítima ou como um exemplo a não ser seguido, sob o argumento de fomentar a prevenção. No entanto, essa forma de prover um serviço público acaba por reforçar a sorofobia.
Se antes falava-se em “grupos de risco”, hoje o termo mais usado em saúde pública é “populações-chave”. Qual é a importância dessa mudança?
A evolução das categorias utilizadas para explicar por que alguns grupos são mais atingidos – e para propor soluções – reflete o avanço da compreensão do HIV por uma perspectiva de direitos.
‘Grupo de risco’, que vem de uma época em que LGBTs não tinham nenhum direito, entende o HIV como consequência natural do comportamento desviante intrínseco a certos grupos – o que justificaria, portanto, a marginalização. Restringir ainda mais os direitos dos ‘grupos de risco’ foi a solução proposta para o bem da sociedade geral.
Em seguida, veio o termo ‘comportamento de risco’, que corretamente amplia o risco de infecção para toda a população, mas ainda exagera no peso da responsabilidade individual. Esse termo reforça a noção de que as pessoas que se tornaram PVHA são aquelas que já tinham um perfil desviante. Ou seja, é uma noção sorofóbica, pois generaliza um perfil para a PVHA e ignora, por exemplo, elementos externos como preconceitos e isolamentos. Além de isentar o Estado de certas responsabilidades.
Uma grande contribuição da teoria social do HIV foi a categoria seguinte, ‘vulnerabilidade’ ou ’populações vulneráveis’, que leva o foco ao contexto em que a pessoa vive, e sobre como violações de direitos, desigualdades de poder e acesso a serviços podem afetar a capacidade de uma pessoa de controlar seu risco.
A expressão ‘populações-chave’ é recente e mantém a interpretação de ‘populações vulneráveis’, mas acrescenta a necessidade do envolvimento significativo dos movimentos sociais das populações afetadas nas decisões sobre a resposta à aids.
O uso dessas categorias já é um consenso?
Não. Essas categorias ensejam posições políticas, portanto, infelizmente, não superamos as interpretações antigas, que ainda estão presentes em discursos atuais sobre o HIV, a depender do enunciador.
Um exemplo são as diferentes interpretações do grande aumento de novas infecções entre adolescentes e jovens brasileiros – uma generalização, aliás, que oculta que a maioria desses jovens infectados são LGBT. O clichê midiático, que se tornou senso comum, é de que sua conduta “irresponsável” pode vir do fato de que “eles não viram seus ídolos morrerem”. O peso está na responsabilidade individual, na crença de que tudo depende da escolha do jovem, então pode-se concluir que a categoria utilizada aqui é ‘comportamento de risco’.
No entanto, uma análise sob a ótica da vulnerabilidade pode revelar o fato de que a bem-vinda conquista do direito ao exercício da sexualidade pelos adolescentes e jovens LGBT ainda ocorre à margem da sociedade, já que essa conquista não veio acompanhada de políticas públicas e campanha educativas.
Outro exemplo é que a maioria das autoridades do mundo hoje usa o termo ‘populações-chave’, mas poucas demonstram entender a participação da sociedade civil como importante. Então o termo se esvazia de sentido prático.
Vale destacar que, mesmo usando uma categoria interpretativa adequada, a teoria social do HIV reflete vieses comuns a todo o campo acadêmico. Um exemplo é a interpretação da enorme desigualdade da aids entre brancos e negros no Brasil. Em um país que é fundado no mito da democracia racial, as contribuições de acadêmicos negros são silenciadas por uma academia essencialmente branca. Portanto, no Brasil, diferente dos Estados Unidos, pouco se aporta de teoria racial crítica à teoria social do HIV.
Esses exemplos deixam claro que não apenas precisamos falar de HIV, mas, sobretudo, é preciso ter muita consciência de como falamos e de como os discursos podem ou não fomentar preconceitos.





